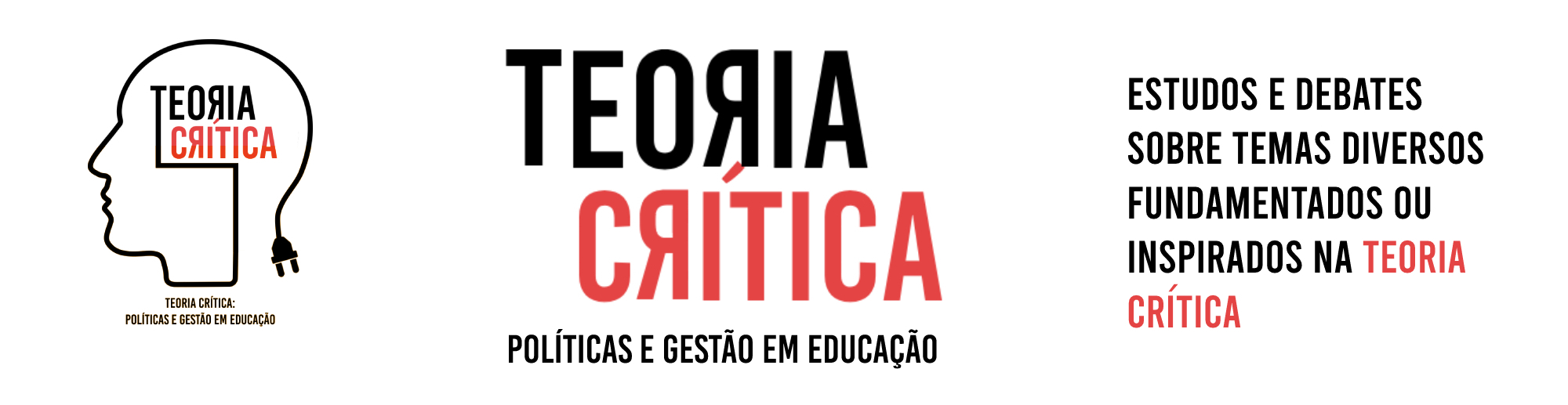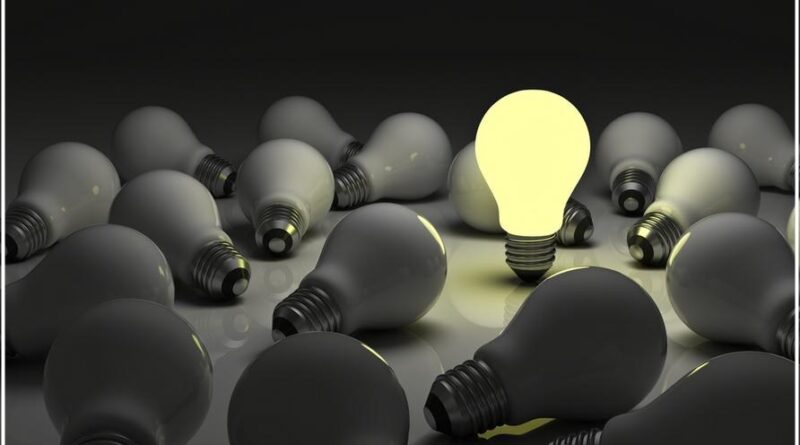IRRESIGNAÇÃO
Erroneamente, segundo nos parece, uma das acusações mais recorrentes que é atribuída aos teóricos da Escola de Frankfurt e, por consequência, aos seus estudos e trabalhos desenvolvidos sob a Teoria Crítica que construíram, seria uma suposta carência de soluções e atitudes práticas (reativas ou combativas) frente aos problemas analisados. Aqueles que se propõem a estudar esse referencial teórico ou que tenham tido – após cometer a gafe de proferir essa incriminação em uma dada oportunidade – uma orientação clara e pautada em muito estudo desses autores, sabem que isso, além de se tratar de uma inverdade, chega a ser um ato de injustiça, especialmente quando tal suposição surgir de cobranças que foram feitas a Adorno, Horkheimer e Marcuse nos finais dos anos 1960, ou seja, a intelectuais que, no momento, já possuíam idade avançada para poderem encabeçar protestos e confrontos, ainda que Marcuse o tenha feito.
No ensaio denominado “Resignação”, Theodor Adorno rebate essas denúncias e fala sobre a importância da função do intelectual para a sociedade, ressaltando que o próprio pensamento, quando “aberto”, é uma forma de práxis com muito mais potencial do que a mera práxis por si só. Essa defesa apresentada por ele me fez refletir sobre o que pretendo fazer com o produto de minha própria intelectualidade, a fim de seguir a orientação dada por ele quando afirma que “o que foi pensado de forma precisa deve ser pensado por outros, em outros lugares”.
Por esse motivo, apesar de posições e contextos diferentes, partilho do mesmo sentimento do filósofo alemão, entendendo e aprovando sua posição naquele contexto. A ele, não foi plausível se resignar e seguir tendências acadêmicas, bem como ser influenciado por movimentos políticos e sociais, pelo simples fato de se enquadrar àquilo que lhe era esperado; ainda mais quando já havia um número bem considerável de estudos e materiais desenvolvidos sobre diversos assuntos que ainda precisavam se tornar conhecidos do grande público, a fim de gerar debates e, por consequência desses, pensar em soluções e propor ações.

Talvez, seja exatamente nesse ponto que tanto a Teoria Crítica quanto demais referenciais teóricos estejam falhando e, em decorrência disso, recebendo a tarja de “produções acadêmicas inertes”: falta de divulgação e discussões amplas. Boa parte dessa culpa se deve à grande quantidade de trabalhos que é produzida pela academia, sendo que a maior parte deles se presta, apenas, ao cumprimento de requisitos e procedimentos burocráticos; dessa forma, não há tempo suficiente de se analisar e tornar conhecidos – como deveria – cada um daqueles que tivesse qualidade para tal.
De minha parte, por mais especulação que possa parecer, me sinto tranquilo em poder acreditar que a maior parte dos principais problemas da humanidade (se não todos) já possuem solução disposta em alguma das muitas teorias existentes em cada área. Equívoco e arrogância seria defender que uma única linha de pensamento, na qual se acredita ter domínio, é autossuficiente e daria conta de responder sobre qualquer tema; aliás, esse foi um dos primeiros ensinamentos que assimilei tão logo tive contato com a Teoria Crítica.
Por meio das leituras, aulas e seminários sugeridos e conduzidos à base de mediação, aprendi o ponto de vista dos principais autores da primeira geração dessa escola sobre diversos conceitos e temas que versam sobres os problemas e desafios da sociedade das épocas e locais em que foram desenvolvidos, mas que, de um modo impressionante, ainda podem ser utilizados como referências em nosso tempo e lugar, em vista das semelhanças e continuação da dominação social e da barbárie. Mais do que compreender esses ensinamentos, entendi que a principal ação, ao utilizá-los para se fazer uma análise, é adotar o viés da dialética negativa para se chegar a uma conclusão do que avançou e do que se manteve regredido – socialmente falando – dentro da temática observada. Não se trata de algo simples. Exige mediações e uma reflexão que é, antes de tudo autorreflexão.
Dentre os temas que tive oportunidade de estudar, dois que destaco, como exemplos, são os estudos aprofundados sobre o fascismo e a desinformação (dois problemas latentes e que vêm ditando os rumos de nossa sociedade), conduzidos por Adorno. Mesmo possuindo décadas de existência, são trabalhos que já abordam, com exatidão, os mesmos problemas – com suas respectivas características e consequências – que enfrentamos novamente em nosso cotidiano, conforme já mencionado. Nesses dois casos, em específico, confesso que tenho muita dificuldade em realizar o exercício da dialética negativa, especialmente para aceitar os fatores “que não avançaram”.
Se esses temas já foram estudados (não só pela Escola de Frankfurt), se existem materiais disponíveis que nos trazem conceitos, tipologias, subdivisões, estratégias de utilização, formas de propagação dessas mazelas e, sobretudo, exemplos históricos de como cooperaram à manutenção da barbárie, por qual motivo não são identificados e logo podados quando alguém ou uma instituição tentam empregá-los a seu favor? A hipótese mais imediata para essa questão seria a provável ignorância da grande massa acerca desse conhecimento, conferindo-lhe um alto nível de suscetibilidade às formas de manipulação que promovem essas ideologias.

Portanto, a meu ver, enquanto intelectuais, quer da Teoria Crítica, quer de qualquer outra corrente de pensamento, se precisamos deixar de lado a produção escrita em vista do empirismo e de atitudes que resultem em soluções práticas, não deveria ser a prioridade a criação de uma forma de popularização do conhecimento que é produzido pela academia antes mesmo de se pensar em debates mais amplos e propostas de intervenções aos problemas da sociedade? Até mesmo porque, no caso dos exemplos citados (fascismo e desinformação), o efeito de alienação que causam é tão grande ao ponto de serem capazes de fazer com que as pessoas por eles afetados lutem contra quaisquer medidas que tentem libertá-los daquilo que lhes oprime; por isso, a conscientização seria bem-vinda.
Recém titulado mestre e estando no começo de minhas contribuições intelectuais à área da Educação, que abordam sobre os problemas, contradições e desafios que observo (in loco) na escola pública, declaro que minha principal preocupação é a de me fazer ser ouvido. A “glória” advinda de uma publicação e elogios de alguns pares que exaltam a relevância de seu trabalho não valem o esforço empregado na produção se a discussão permanecer restrita a um meio de pessoas que, concordando ou não com o teor, possuem algum conhecimento e opinião formada sobre esses temas.
Apesar de flertar com a utopia o fato de imaginar um mundo onde a academia divulgue abertamente toda a sua produção e conhecimento para uma maioria de pessoas ávidas por eles, qualquer avanço nesses quesitos – em vista do que temos no atual mundo real – já seria benéfico. Estando irresignado, assim como Adorno também esteve, desejo que meus trabalhos cheguem, chamem a atenção e incomodem as pessoas comuns, puxando-as para o diálogo, pois a maioria da sociedade é composta por elas e os problemas que relato as afeta. Mudanças precisam ser feitas para que possamos superar a barbárie e, até esse momento, a conscientização é nossa melhor arma; e meu maior desejo, no momento, é poder “nutrir” quem mais precisa. Somente assim, cada minuto empregado em leitura, pesquisa e escrita valerá a pena, para cada aula, cada encontro, cada diálogo. O diálogo só não é possível quando nega a vida do outro, quando é barbárie sem qualquer mediação.